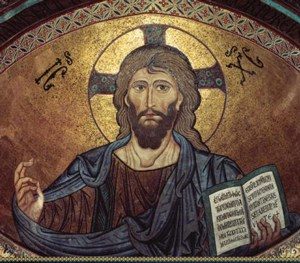15 de junho de 2016
15 de junho de 2016
[email protected]
domsebastiaoarmandogameleira.com
- Introdução: Homenagem aos cinquenta anos do Concílio
Sabemos bem que o Concílio Vaticano II revelou a considerável mudança de mentalidade que se tem operado na Igreja cristã, no campo católico e no protestante também. E essa mudança se manifestou, claramente, na Constituição Dogmática “Dei Verbum” (Palavra de Deus). Com efeito, não se tratava de documento menor, mas de “constituição dogmática”, o que envolve particularmente o “sensus fidelium” (sentir comum dos fiéis) e a autoridade magisterial da Igreja. E não se referia a um tema qualquer, secundário, mas a apresentar o próprio conceito de Revelação, basilar para todo o edifício da doutrina cristã, pois, sem a “revelação” de Deus, não tem sentido nossa fé, estaríamos apenas no nível da “religião”, sempre “obra nossa”.
A grande mudança foi passar de um conceito intelectualista de Revelação a um conceito vital e integral. Manifesta-se, por exemplo, a assimilação por parte da Igreja Católica Romana, da contribuição de correntes filosóficas modernas, como o Existencialismo e o Personalismo, com grandes contribuições de Carlos Jaspers, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel e outros. Além disso, pode-se constatar a acolhida da nova exegese científica e de uma teologia mais bíblica, mais pastoral e que tem em conta a relação íntima entre Escritura e contexto vital, tanto dos escritos bíblicos, em sua produção, quanto de sua leitura (interpretação). Contribuição progressiva e resultado de árduo trabalho de exegetas, teólogos e pastores nos últimos dois séculos. E, não por último, a preocupação ecumênica de apresentar a verdade da fé de maneira que não seja fonte de divisão, mas de convergência em direção á unidade.
Não se trata apenas de Deus nos transmitir ideias arcanas e misteriosas a respeito da realidade, doutrinas e conceitos não accessíveis a nós, a não ser por Sua graça. Não se trata simplesmente de comunicar “verdades” que só Deus conhece, como era a mentalidade prevalente no Concílio Vaticano I, em seu horizonte antirracionalista. Antes, avança-se no sentido de pensar a Revelação como processo de comunicação que Deus faz de Si mesmo, de Sua vida íntima. O que se nos revela é a inaudita proximidade pessoal de Deus em relação à humanidade toda, ao comunicar Sua própria vida, sobretudo mediante Jesus e o Espírito Santo, Deus mesmo entre nós e em nós. A esse gesto salvífico devemos responder pela fé comoatitude global da pessoa que se entrega com a totalidade de sua vida, a qual deve ser transformada de maneira integral. A partir daí, e com inegável contribuição da reflexão teológica afroameríndia, vem a reflexão sobre evangelização elaborada pelo saudoso Papa Paulo VI em seu importante documento “Evangelii Nuntiandi”.
Porque reflete essa mudança de mentalidade, em certos aspectos até radical, num tema que diz respeito aos fundamentos da fé, é fácil compreender por que foi muito difícil elaborar o documento durante o Concílio. A discussão se iniciou na primeira sessão e o texto só foi concluído para aprovação na última sessão, depois de muitas vicissitudes, e idas e vindas, inclusive com intervenções pessoais dos Papas João e Paulo. Por isso, o documento reflete, como espelho, toda a tensão vivida pelo Concílio nesses anos de intenso conflito de mentalidades. E ainda é preciso acrescentar: mais do que qualquer outro documento, este é, sem dúvida, resultado do diálogo que já vinha de longe, entre a tradição católica romana e a tradição protestante, ao longo do último século.
2. A graça do Concílio Vaticano II
Permitam-me, comece por um testemunho pessoal. Nasci de família cristã e toda a minha formação foi católica romana. Sou muito grato por isso. Em minha caminhada, tudo contribuiu para que hoje exercesse o ministério na Igreja Anglicana, sentindo-me católico, mas, ao mesmo tempo, incorporando certas conquistas da Reforma, e compreendendo a Igreja em perspectiva ecumênica. O Ecumenismo, não como algo paralelo ou uma dimensão acrescentada a minha fé, uma espécie de “virtude moral” de compreensão e tolerância, mas o Ecumenismo como dimensão essencial da própria fé teologal e atitude profunda da vivência eclesial. Na Igreja dividida, a unidade visível se torna elemento fundamental da fé, da esperança e do amor. A unidade visível da Igreja, percebida pela fé como elemento radical, isto é, que está em sua raiz, aguardada ansiosamente como revelação escatológica, e parcialmente manifestada, já agora, pela operosidade do amor de Deus em nós e entre nós (cf. Jo 17).
Após ter trabalhado no Instituto de Teologia do Recife, ter participado da assessoria a Bispos Católicos e a Religiosos(as) do Nordeste, um dia, descobri-me anglicano, sim, sempre digo que não me “tornei” anglicano, mas apenas percebi que minha Eclesiologia era, na verdade, mais anglicana que romana. Pois o problema não é o “Catolicismo”, mas a sua forma “romana”, que poderíamos sintetizar, quem sabe, em dois traços: a preocupação por definir a verdade, que lhe advém da herança helênica essencialista, e a mentalidade jurídica, que lhe vem do Direito Romano, além do modelo institucional inspirado no sistema imperial (“Pontifex Maximus”, “Vigário de Cristo”, títulos herdados dos imperadores) adquirido em séculos de Cristandade. Ao dar esse passo, uma religiosa minha amiga disse-me o seguinte – estávamos no início dos anos noventa, vivendo o trauma da substituição de Dom Helder Camara e a perseguição à corrente da Libertação: “Eu até compreendo o seu gesto, dizia-me, mas, de qualquer modo, fiquei um pouquinho triste porque você deixou a Igreja”. Eu lhe respondi: “Como se pode deixar a Igreja, se só existe uma, a Igreja de Cristo. O que pode haver são várias denominações, pois como é possível entender uma Cabeça com diversos corpos? De Cristo, que é a única Cabeça, brota um único Corpo. A unidade da Igreja está dada em Cristo; nosso pecado – a divisão é sempre “dia-bólica” — é que dificulta a revelação dessa realidade primordial. É como o que acontece com uma família. Por diversos motivos, do mesmo tronco nascem várias “casas”, até com a adoção de sobrenomes diferentes, mas há um único nome que reúne a todos(as), o santíssimo Nome de Jesus (cf. 1Cor 1, 1-3). Para você entender, dizia eu, pense em categorias que lhe são familiares: é como se eu fosse jesuíta e me tornasse franciscano, a mudança é só de “congregação” religiosa; a institucionalidade é, de certa forma diferente, mas a fé continua a ser a mesma fé católica, integralmente. Aliás, a Comunhão Anglicana sempre reconhece ser “uma porção parcial e provisória do Corpo de Cristo”, dada a situação histórica surgida da Reforma. Não me sinto saindo fora da Igreja, mas nela permanecendo”.
É claro que essa compreensão depende totalmente de como vivemos e formulamos a Eclesiologia e, consequentemente, como entendemos a unidade da Igreja. De maneira muito breve, diria que a unidade já nos é dada em Cristo e a plena revelação desse dom fontal é escatológica, de tal forma que na história temos de carregar o peso de nossas desuniões e divisões, sem nunca, porém, renunciar à utopia de “um só rebanho e um só Pastor” (cf. Jo 10). Não deveríamos passar da pretensão de “possuir a verdade” para, humildemente, peregrinar em busca da “Verdade que nos possui”? Não podemos imaginar a unidade visível como um simples retorno a um estágio ideal anterior. O próprio Novo Testamento já o atesta, com sua diversidade de tradições e de instituições: seria um acaso termos quatro evangelhos, em vez de um só? Não é um sinal da diversidade das comunidades na Igreja? O Apóstolo São Paulo não teve de enfrentar conflitos para defender sua forma diferente de ser e de agir com suas comunidades? A perfeita unidade visível e histórica é uma espécie de “mito do paraíso”, nunca identificável de fato, basta ver as várias linhas presentes nos escritos apostólicos, que refletem conflitos reais de doutrina e de prática. A “quebra” da unidade não acontece só a partir do ano 1054, entre Oriente e Ocidente, é bem anterior, pois já se o pode ver claramente ao ler as epístolas, os Atos e o Apocalipse, sem falar do que aconteceu com as antigas Igrejas Orientais, como a Copta e a Etiópica. A conflitividade dos sínodos e concílios na Igreja antiga são testemunho eloquente disso. Sob a atração da “utopia” da unidade, os diversos grupos humanos, no caso a Igreja, devem reconhecer-se reciprocamente, não apesar de, mas através das diferenças, acolhendo-as como riqueza e complementaridade, e orar, caminhar e lutar em vista de se encontrarem adiante sempre mais (cf. Sebastião A. GAMELEIRA SOARES, Um SóSenhor – Ef 4 — Meditação Sobre Ecumenismo, Centro de Estudos Bíblicos, nº 104, 1996). As diferenças não são o problema, pois são inerentes à condição humana, o problema é a divisão, a inimizade; não a diversidade, mas a “adversidade”. Um amigo meu, já falecido, teólogo e companheiro de trabalho por anos, Luís Carlos Araújo, do Recife, escreveu uma vez um pequeno livro, “Profecia e Poder na Igreja” (Ed. Paulinas, 1986) onde punha em debate o seguinte: “A pergunta correta é: “Qual a Igreja verdadeira? Ou qual a Igreja que está sendo verdadeira?” Afinal, o critério decisivo da eclesialidade são as “exatas” formulações doutrinais (será que ainda não nos convencemos de que qualquer doutrina é só “símbolo”, não “res” – realidade), ou o seguimento da prática de Jesus? Mesmo que as duas categorias se impliquem mutuamente, o ponto de referência primordial é a preocupação com a verdade ou com o amor? Não é no rumo do segundo critério que o Evangelho nos orienta? E se discordamos e julgamos identificar erros na maneira de ser ou de falar de outrem, como o ajudaremos a aproximar-se da verdade, pela inimizade ou pela aproximação e partilha fraternas? Dizia o Bispo que me ordenou ao ministério: “Persistimos em nossas divisões pelas razões de mortos; pois o povo, os vivos de hoje têm todas as razões para nos unir em seu favor”. Agrada-me dizer que o povo não nos pergunta primeiramente por “confissões de fé”, mas por “soluções de fé”.
Fui estudar Teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, e Exegese Bíblica no Pontifício Instituto Bíblico. Lá estive por bons oito anos. O primeiro período, por graça de Deus, coincidiu com o Concílio Vaticano II. Em nosso entusiasmo juvenil, parecia-nos que a Igreja estava passando por transformação radical. Naqueles anos era muito vivo o anseio por “revolução” e “libertação”. O próprio Papa nos autorizava a pensar assim quando falava de “transformação radical” da sociedade e dava sinais de querer realmente “reformar” a Cúria Romana, e fazia gestos, digamos, “sacramentais” para indicar novos rumos. Lembremo-nos, por exemplo, da renúncia à tiara, do presente do anel dado aos Bispos, das viagens às terras dos pobres (Palestina, Índia…), da “Populorum Progressio”, da “Octogesima Adveniens”, da “Marialis Cultus” e da “Evangelii Nuntiandi”… e da enigmática visita ao túmulo do Papa Celestino V, o Papa-eremita, o ancião dos pobres e dos “fraticelli” e “espirituais”, do dramático dilema, naquela época, entre ser papa e ser cristão… após alguns meses renunciou ao papado, foi preso por seu sucessor e assassinado na prisão. Nunca me esqueço do belíssimo romance que li sobre sua vida, de um dos melhores escritores italianos, Ignazio Silone, “L’avventura di un povero Cristiano”. Parecia-nos, em nossa ingenuidade romântica e, de certa forma, eclesiocêntrica, que a Igreja se preparava para ser protagonista de uma grande mudança social no mundo. A “Gaudium et Spes” nos estimulava nessa direção e pouco depois veio “Medellín” e Puebla… Cada dia, o simpático Dom João Batista Albuquerque, Arcebispo de Vitória, no recreio após o almoço, nos fazia a resenha da sessão conciliar, seus embates e conquistas. À noite na “Domus Mariae”, tínhamos a oportunidade de escutar os melhores teólogos da Igreja e na Universidade tocávamos com as mãos como os professores estavam a renovar seus ensinamentos à medida que o Concílio prosseguia. Isso era particularmente evidente no que se referia à Bíblia, à Teologia Fundamental, à Cristologia, à Eclesiologia e ao Ecumenismo, e à Liturgia. Dom Clemente Isnard estava frequentemente conosco, em conferências e conversas informais e já ensaiando na cripta da capela do Colégio Brasileiro as novas orações eucarísticas ainda não publicadas oficialmente. No Colégio, embora não tivéssemos quase nenhum contacto pessoal com ele, morava o Cardeal Bea, o ícone católico do Ecumenismo, o que era para nós uma honra e o sinal de uma nova era, paradoxalmente, carregada pelos ombros alquebrados de um sábio ancião. E tínhamos um Papa profundo conhecedor da moderna Teologia francesa, um dos melhores fermentos preparatórios do Concílio. Ah, tempo maravilhoso, quando até parecia que podíamos tocar com as mãos o Espírito de Deus e sentir em nossos rostos o sopro consolador da “brisa suave” que percorria os cantos da Igreja para “arejá-la de vento refrescante”, como queria o bondoso e inspirado Papa João!
Nesse período, no clima do Concílio e provocado pelos estudos teológicos, na idade dos vinte anos, quando o “catecismo” aprendido ia sendo repensado, para amadurecer a formulação da fé, e tantos “mitos” ou imagens infantis pareciam desabar – estudar Teologia ordinariamente provoca uma crise, além de intelectual, emocional – especialmente três perguntas me perseguiam: Por que temos na Igreja uma estrutura tão autoritária e centralizada, que tem dificuldade de reconhecer a legítima autonomia das Igrejas locais e os direitos das pessoas? Por que não se deixar dirigir realmente pela Bíblia, quando se trata de ensinamento doutrinal, e pela Patrística quando se trata de prática eclesial? Afinal, a Idade Média Feudal já passou e suas sínteses não podem ser tidas como definitivas. A leitura dos Pais da Igreja me encantava, pensemos na Didaqué, nos Atos dos Mártires, em Hipólito, Tertuliano, Crisóstomo, Cipriano, Agostinho…). Finalmente, não conseguia compreender, ou melhor, lamentava-o, pois evidentemente que o sabia ao estudar a História, por que a Igreja de Roma não se tinha aberto aos fermentos proféticos da Reforma.
3. As vicissitudes de elaboração da Constituição Dei Verbum
A Constituição sobre a Divina Revelação é um dos documentos mais importantes do Concílio pelo tema nela tratado. Além disso, nela se reflete o próprio processo de evolução do Concílio. Transcorreram seis anos desde as consultas preliminares em 1959 até a promulgação em novembro de 1965. Foi o único documento a ocupar a aula conciliar por três anos. Para verificar o quanto as questões aí tratadas eram de extrema relevância para expressar a mente da Igreja, basta comparar com o que se deu com outras Constituições: a Constituição sobre a Liturgia teve o percurso de um ano, de 1962 a 1963; a “Lumen Gentium”, de dois anos, de 1962 a 1964; a “Gaudium et Spes”, que tratava de questões tão controvertidas e que, de certo modo, abria um novo horizonte nas relações entre Igreja e Sociedade, foi elaborada em quatorze meses, de 1964 a 1965. A “Dei Verbum”, porém, percorreu uma íngreme subida, estrada cheia de obstáculos, desde novembro de 1962 a novembro de 1965.
Antes de tudo, tratava-se do tema sobre o qual “se funda, se constitui e se mantém a Igreja”, um “articulum stantis aut cadentis Ecclesiae” (elemento que mantém a Igreja de pé ou a derruba por terra). Afinal, é sobre a Palavra de Deus que a Igreja se edifica e sua fidelidade se mede pela abertura a escutá-la. Depois, tratava-se de definir em que perspectiva seria apresentado aquilo que é o fundamento de toda doutrina, a saber, a Revelação divina. Desde o Concílio de Trento, como resposta à Reforma Protestante, adotara-se posição apologética e defensiva, de prevenção em relação à pesquisa bíblica, posição que até se fortaleceu na luta contra o Racionalismo de cunho iluminista. Um das consequências disso foi a exagerada ênfase no Magistério, particularmente concentrado no Papa, como critério de leitura da Bíblia e quase identificado objetivamente com a Tradição, dando a impressão de que, ao menos na prática, estivesse acima da própria Escritura. Ora, a Teologia recente, que desemboca no Vaticano II, defendia visão positiva e ecumênica. A Igreja inteira e, em particular, os Padres Conciliares careciam de tempo para assimilar a nova perspectiva. Assim, o documento percorreu longo caminho de elaboração através de quatro “esquemas” redacionais. Nos intervalos, as comissões trabalhavam e retrabalhavam o texto, nas sessões se o discutia. Na etapa preliminar, foram consultados os Bispos, os Superiores Maiores de Ordens Religiosas, as Faculdades de Teologia e a Cúria Romana. Não houve questionários, mas livre manifestação dos desejos (“vota”), já se anunciava que as coisas não seriam fáceis. Sentia-se, desde o início, um divisor de águas: a Escola Romana, de cunho antimodernista e antiprotestante, e a linha da Teologia que se desenvolvia entre França, Bélgica e Alemanha, especialmente. O episcopado insistia em que se tratasse o tema para proveito da vida da Igreja e se esclarecessem questões como historicidade, inspiração, inerrância e interpretação; que a perspectiva fosse eminentemente pastoral, recomendando e facilitando a leitura das Sagradas Escrituras; que se apresentasse com clareza a natureza e importância da Tradição e sua relação com a Escritura. As faculdades de Teologia já ofereciam esboços de textos sobre Revelação, Escritura, Tradição. Enquanto o Santo Ofício insistia em reafirmar a doutrina e fazê-lo em tom polêmico e defensivo, evitando qualquer perigo de ceder à mentalidade moderna racionalista e ao Protestantismo. O esquema resultante, a ser apresentado ao Concílio, teve a marca predominante das respostas e preocupações do Santo Ofício, já que o presidente da comissão preparatória era o próprio Cardeal Ottaviani, Prefeito da Congregação e “guardião da fé”.
O tema da Revelação se apresentava em dois documentos: “De Deposito Fidei Custodiendo” (Sobre o depósito da fé que deve ser conservado) e “De Fontibus Revelationis” (Sobre as fontes da Revelação), títulos que já insinuavam claramente qual era a perspectiva doutrinal e a atitude apologética. No decorrer das discussões, as questões tratadas serão as mesmas, mas a perspectiva se deslocará completamente. Já antes de começarem os debates na aula conciliar, circulavam entre os Padres esquemas alternativos que já sugeriam a unificação dos dois documentos. Um deles, das Conferências Episcopais da Europa Central, trazia o título “De Revelatione Dei et hominis in Jesu Christo facta” (Sobre a Revelação de Deus e do ser humano feita em Jesus Cristo). Era evidente a sugestão de mudança de óptica: visão cristocêntrica e perspectiva antropológica, na linha que Paulo VI vai depois formular em seus famosos discursos durante o período conciliar, particularmente por ocasião da clausura do Concílio em 07 de Dezembro de 1965, nos números 14 e 15: “Para conhecer o ser humano (…) é preciso conhecer a Deus (…) no rosto de cada ser humano (…) podemos e devemos reconhecer o rosto de Cristo (cf. Mt 25, 40), o Filho do Homem (…) no rosto de Cristo podemos e devemos, ademais, reconhecer o rosto do Pai celestial (…) nosso humanismo se faz cristianismo, nossocristianismo se faz teocêntrico, tanto que podemos afirmar também: para conhecer a Deus, é necessário conhecer o ser humano”. Aliás, já em seus tempos de padre, capelão da Juventude Universitária (ele o revela em seus “Diálogos com Paulo VI”, de Jean Guitton, famoso escritor católico francês), perturbara teólogos e eclesiásticos italianos, ao declarar: “Se o Verbo se fez carne, é sinal de que a carne é verbo”, tema tão caro a um teólogo da altura de Carlos Rahner, um dos maiores teólogos alemães, antecipador do Vaticano II.
Na 19ª Congregação Geral, o Cardeal Ottaviani apresenta o esquema “De Fontibus”. Só que os Padres já haviam passado um mês em debates sobre o esquema da Liturgia, o que fora um treinamento fundamental para o que seria o desenrolar-se do Concílio. Assim, a discussão sobre a Liturgia, um tema menos espinhoso para a decolagem dos debates, e já amadurecido pela própria marcha da Igreja preconciliar, particularmente desde a reforma litúrgica de Pio XII, indicara ao Concílio sua orientação pastoral, e isto foi fundamental para tudo o que viria depois. O debate sobre a Revelação dar-lhe-ia a orientação teológica, juntamente com a reflexão sobre a Igreja. A “Gaudium et Spes” revelaria o horizonte ideológico, a visão socio-política da Igreja. Logo de início, onze cardeais pediram a palavra, em maioria contra o esquema, a começar pelo famoso Cardeal holandês Alfrink e o Cardeal Bea. As principais críticas eram o estilo magistral e apologético, alheio a preocupações pastorais e ecumênicas, e falta de perspectivas para a vida real da Igreja. Não se enfatizava a natureza cristocêntrica da Revelação; a Tradição era sobretudo contraposta à Escritura, como se se quisesse contrapor à “sola Scriptura” o princípio da “sola Traditio”, e naturalmente a Tradição, na prática, identificada com as afirmações do Magistério; inspiração, inerrância e historicidade se apresentavam mais como “barreiras” ao trabalho dos intérpretes da Bíblia que como estímulo aos estudos e pesquisas; não ficava claro que o Magistério estava a serviço e sob a guia da Escritura.
O Secretariado para a Unidade dos Cristãos havia preparado um esquema substitutivo, pois em nada havia sido consultado pela Comissão Doutrinal. Sintomaticamente se intitulava “De Verbo Dei” (Sobre a Palavra de Deus). A preocupação central era pastoral e ecumênica. E a perspectiva doutrinal era bem distinta: a Revelação é única, com dois meios de transmissão, não duas fontes; a centralidade da Bíblia; não definia a extensão quantitativa da Tradição; afirmava o Povo de Deus como o sujeito da Revelação e punha o Magistério claramente a serviço dela; a Tradição não se identificava com um depósito objetivo de verdades, mas era o progresso vivo da Revelação enquanto se transmitia na vida da Igreja, guiado pelo Espírito Santo. A sensibilidade ecumênica insistia em fazer ver que o esquema estava viciado por uma preocupação de não ceder ao Protestantismo, como se qualquer aproximação equivalesse a trair a doutrina católica. Ora, tratava-se era de tornar inteligível a doutrina católica para favorecer o diálogo com cristãos não católicos e também com o povo judeu. Não se deve esquecer que, ao iniciar-se o Concílio, havia uma espécie de “animosidade” frente à Bíblia, com a censura ao trabalho do Instituto Bíblico de Roma e a suspensão de professores, uma verdadeira batalha encabeçada pela Pontifícia Universidade Lateranense.
Concluída a discussão sobre o esquema em geral, antes de entrar em cada um de seus capítulos, tal era o clima de insatisfação que se decidiu sondar os Padres sobre a oportunidade de prosseguir ou voltar ao começo e refazer o esquema. A 22ª Congregação Geral, em 19 de novembro de 1962, foi o marco público da crise. A resposta dos membros do Concílio não obteve a maioria regulamentar de 2/3 de votos; chegou, porém, à significativa maioria de 62%. O voto amplamente majoritário indicava reenviar o texto à Comissão para ser refeito. Mas, sem a maioria de 2/3, era preciso continuar a discussão do texto proposto. Assim, por dois dias, se levou adiante a discussão por capítulos, mas em vista da insatisfação, o Papa interveio e o esquema foi mandado à Comissão Doutrinal, a qual devia trabalhar em conjunto com o Secretariado para a Unidade dos Cristãos. Este era um passo significativo de orientação. No segundo esquema, o título é mudado. Agora se trata “De Divina Revelatione” (Sobre a Divina Revelação). O grande desacordo na Comissão era em torno das relações entre Escritura e Tradição. Chegou-se a um acordo básico: evitar expressões que falassem de maior ou menor extensão da Tradição em relação à Escritura ou que indicassem separação de ambas, por 29 votos contra oito. Resultado não aceito por Ottaviani que estivera ausente no momento da votação, mesmo assim havia grandes mudanças: o documento é reduzido à metade; o proêmio introduzia o tema da natureza da Revelação, incorporando, assim o “De Deposito”, só que com grande diferença de conteúdo; quatro parágrafos sobre a inspiração se reduzem a meio parágrafo; fala-se de relação mútua entre Escritura e Tradição, enquanto o esquema anterior falava de “Traditio sola” (Só a Tradição) como base para certas verdades da fé; explicitava-se que o Magistério é a norma próxima da fé, mas é o depósito da Revelação a sua norma remota; não fala da inerrância em sentido negativo; não privilegia a Vulgata, mas sugere e estimula a tradução da Bíblia nas várias línguas; acentua a importância da homilia na liturgia; conclui com uma ousada comparação: a Palavra, como a Eucaristia, deve incrementar e impulsionar a vida da Igreja.
O resultado do trabalho revelava a tensão no interior da Comissão Mista, agora incluindo o Secretariado, por vontade do Papa. Chegou-se a pensar evitar um documento próprio sobre o tema, dada a aparente imaturidade da reflexão e a dificuldade de alcançar consenso. Houve propostas de a reflexão sobre Escritura e Tradição ser incluída na constituição sobre a Igreja. Entre julho de 1963 e abril de 1964 três mil Padres enviaram observações, muitos em nome de conferências episcopais ou grupos, na maioria críticos. As sugestões mostravam bem a evolução de atitude na maneira de sentir da Igreja: a Revelação não é só de verdades, mas de Deus mesmo, sobretudo mediante Jesus Cristo, e Deus é o objeto da fé, que se alcança pela conversão e é fruto da graça; a Tradição deve ser vista em íntima relação com a vida integral da Igreja, não mera tradição doutrinal, nem centrada no Magistério; historicidade, inspiração e inerrância deviam ser tratadas em diálogo com os problemas específicos de nossa época; era necessário enfatizar a História da Salvação em seu horizonte de universalidade, e mostrar a diferença ética entre AT e NT; criticava-se o tom apologético ao falar dos Evangelhos e esses deveriam ser apresentados como anúncio permanente, e não só no passado; devia-se relacionar a Tradição e a Escritura com a catequese e a vida sacramental; além da Vulgata, era necessário mencionar a LXX (Septuaginta) e as outras versões orientais; devia-se omitir louvar a prática anterior da igreja quanto à leitura da Bíblia, por falta de sinceridade; recomendar a leitura privada da Bíblia, especialmente para o clero e religiosos(as); recomendar o trabalho comum de tradução entre católicos e outros cristãos.
O terceiro esquema resultou da revisão total do anterior, tendo em conta as observações e sugestões dos Padres. Haviam trabalhado duas subcomissões, cuja tarefa indica bem os dois focos da tensão: uma, se dedicaria a tratar de Revelação e Tradição (proêmio e cap. I), a outra, da Escritura (cap. II e V). O texto obteve luz verde do Secretariado para a Unidade Cristã, antes de ir à Comissão Doutrinal. É de notar que, no jogo das pressões, no período de Paulo VI, o Secretariado já não compunha a Comissão Doutrinal, embora nos bastidores a influência e, pode-se dizer, a batalha do Cardeal Bea continuasse intensa. Foi por sua obra que a Pontifícia Comissão Bíblica aprovou e publicou a famosa “Instrução sobre a Historicidade dos Evangelhos”, citada na própria Constituição Dei Verbum. As mudanças significativas foram as seguintes: mais atenção ao tratar da Tradição; passagem do “uso da Sagrada Escritura na Igreja” para a “Sagrada Escritura na vida da Igreja”; os primeiros dois capítulos sofrem revisão radical; não há referência à extensão da Tradição, ao contrário, busca-se estreitar as relações entre Tradição e Escritura. Houve ampla aceitação do esquema e as sugestões visavam mais a clarificar pontos que a corrigir, como por exemplo: o papel de Cristo; noção mais bíblica e personalista da fé; ao tratar de “Tradição Apostólica” distinguir o papel único dos Apóstolos e o papel dos Bispos; inerrância no que se refere à “veritas salutaris” (verdade salvífica); leitura orante da Bíblia. Com esse terceiro esquema já se estava praticamente na versão final da Constituição. Havia, porém, três pontos de tensão não resolvidos: maior ou menor extensão da Tradição em relação à Escritura; qual a extensão da inerrância ou da verdade da Escritura; historicidade dos Evangelhos. Devido a muitas pressões da minoria preocupada com a coerência em relação ao Magistério anterior, o Papa, através de carta de 18 de outubro de 1965, intervém e pede que esses pontos sejam melhor esclarecidos, e sugere a presença do Cardeal Bea nas deliberações. Chega-se assim a três soluções finais: “a Igreja não haure sua certeza a respeito de toda a Revelação exclusivamente da Sagrada Escritura”; de “veritas salutaris” passa-se a “nostrae salutis causa” (por causa de nossa salvação); e “Ecclesia… Evangelia quorum historicitatem incunctanter affirmat” ( Evangelhos cuja historicidade a Igreja tem afirmado sem hesitação).
4. Marcos para o diálogo
“Solus Christus”
Uma das preocupações fundamentais da Reforma foi afirmar, de maneira radical, a centralidade da obra de Cristo na redenção humana. Lutero disse isto numa expressão-limite: “Solus Christus”, ou seja, Cristo como único mediador, a Igreja e todos os outros “meios” de salvação sendo apenas manifestativos, não causativos, da eficácia e suficiência da obra de Cristo. A Constituição dá um passo importante na relação ecumênica quando explica a natureza cristocêntrica da Revelação, desde o princípio da Criação, na perspectiva das epístolas aos Efésios e aos Colossenses, tão belamente retomada nos tempos modernos pelo grande padre Teilhard de Chardin.
Já no Proêmio, com a citação de 1Jo 1, 2-3, isto fica evidente: a vida eterna que estava junto do Pai e se manifestou é o Verbo da Vida, Jesus. Deus se revela a Si mesmo e manifesta o mistério de Sua vontade por Cristo, Palavra feita carne. É em Cristo que resplandece a Revelação, sendo Ele mesmo o mediador e sua plenitude (cf. nº 2). O nº 3 prossegue na mesma linha cristocêntrica, pois, ao falar da Criação mediante a Palavra, é clara a referência a Cristo, pois se tem em mente o Prólogo de São João (cf. Jo 1, 3). E o nº 4 o explicita de maneira ainda mais clara, inspirando-se de Hb 1, 1-2: “nos últimos dias nos falou por Seu Filho”. O mesmo acentuado cristocentrismo volta quando se fala do Primeiro Testamento e do Novo Testamento, nos nºs 14-20. A economia da salvação visa a Cristo e é desse centro que irradia a unidade de ambos os testamentos; é Ele o critério fundamental da Revelação. A centralidade de Cristo faz com que se explicite sem ambiguidade a superioridade do NT em relação ao AT (cf. nº 17), e no NT o lugar de excelência é ocupado pelos Evangelhos: “etiam NT Scripturas, Evangelia merito excellere” (também os Evangelhos têm o privilégio de ter lugar de primazia nas Escrituras do NT), por “serem o testemunho principal da vida e doutrina da Palavra feita carne, nosso Salvador” (nº 18).
Sabemos que Lutero colocou em discussão o Canon das Escrituras. É famosa sua antipatia pela Carta de Tiago. Particularmente influenciado pelo clima cultural do Humanismo, de volta às fontes da Antiguidade clássica, insistiu no retorno ao Canon hebraico. Chegou bem perto da posição de São Jerônimo, ao distinguir os escritos protocanônicos dos deuterocanônicos. A verdade é que não descartou os últimos, ao contrário, recomendou-os à leitura como úteis para alimentar a piedade e a instrução. Só não lhes atribuiu a mesma autoridade doutrinal. Essa é até hoje a posição do Anglicanismo, que lê deuterocanônicos inclusive na Liturgia oficial e os recomenda à leitura devocional privada. Quanto ao Novo Testamento, e por extensão a toda a Bíblia, deixou claro qual era o critério central: é Palavra de Deus inspirada o que conduz a Cristo. Daí, o privilégio que conferiu aos Evangelhos e à Epístola aos Romanos. Ou seja, sua preocupação principal não foi determinar propriamente uma lista de escritos canônicos, mas sobretudo tratou de estabelecer um critério teológico de discernimento da Palavra de Deus por entre as palavras humanas contidas na Bíblia. Evidentemente, desse critério surge uma espécie de hierarquia entre os escritos, assim como os teólogos falam de “hierarquia de verdades”, um “canon dentro do Canon”. A Constituição parece aproximar-se disso quando lembra o que é clássico e tranquilo na tradição católica: a superioridade do NT sobre o AT e a superioridade dos Evangelhos entre os escritos do NT. Esse critério já não está presente nas palavras de Jesus, quando põe em primeiro lugar a Lei e os Profetas? E quando acompanhamos o ministério de Jesus, segundo os evangelhos, percebemos que foi o profetismo a corrente com a qual mais se identificou, a partir da consciência que tinha de Sua vocação; e, entre os profetas, a excelência é do livro de Isaías, tido entre os Pais da Igreja como “evangelho antes dos evangelhos”, e aí ocupam o primeiro plano os Cânticos do Servo Oprimido e Vitorioso (cf. Is 42; 49; 50; 52-53). É evidente que o pano de fundo da Profecia, que é o mesmo das ações e das palavras de Jesus, são o Êxodo e o Deuteronômio, devendo-se acrescentar os Salmos. A Liturgia da Igreja concede um privilégio evidente às epístolas paulinas.
É claro que toda a Escritura é testemunho da experiência da Revelação divina na história humana, mas há, evidentemente, um “canon dentro do Canon”, como se fosse uma mesma roda que tenha eixo, raios e margem. De um lado, há o conjunto objetivo de textos canônicos recebidos da Tradição. Doutro lado, há como um critério sutil, uma espécie de “feeling” (instinto, senso) cristocêntrico que, de certa forma, determina seleção e estabelece precedências, desde “rocha” até “palha”. A partir disso, quem sabe, torna-se mais fácil o diálogo teológico em torno do Canon. Na experiência concreta da Igreja, temos a Bíblia Septuaginta (dos Setenta, tradução para o grego), com um canon bastante amplo – não devemos esquecer que a Epístola de Judas, por exemplo, se baseia com toda naturalidade em narrações tidas depois como “apócrifas”; o canon oriental é mais amplo que o ocidental; o canon católico romano consta de 73 livros, enquanto o protestante se contenta com 66. Será que a noção teológica de “Canon” exige o conceito de “exclusividade”? Não se poderia pensar que, ao determinar a lista dos escritos sagrados, a Igreja está apenas se referindo ao pressuposto da “suficiência”? Ou seja, não se trataria de definir que somente tais escritos sejam inspirados – mesmo porque o conceito literário e teológico de inspiração se tem ampliado. “Inspiração” é, antes de tudo, “sopro”, ação do Espírito, e a experimentamos quando os textos são capazes de inspirar-nos na caminhada de fidelidade aos rumos indicados ou sugeridos por Deus. Pode, por exemplo, ter havido textos inspirados que se perderam, como algum escrito do Apóstolo Paulo; pode ter havido textos “inspirados”, o mesmo queinspiradores, que não chegaram a entrar no Canon, como a Didaqué, por exemplo; pode haver, inclusive, textos inspirados fora do âmbito da tradição da fé cristã; ou até fora do âmbito da esfera religiosa, pensemos em certos poemas clássicos que chegam às raízes do humano. Tratar-se-ia de afirmar, na verdade, que determinado ramo da Igreja cristã julga “suficientes” tais escritos para orientar no caminho da fidelidade à Revelação de Deus. Isto facilitaria em muito o diálogo e desdramatizaria a questão sem em nada ferir a Tradição, pois esta mesma já nos revela suas hesitações até o Concílio de Trento. O critério fundamental terá de ser sempre a centralidade de Cristo.
“Sola Gratia”
Já de início, o primeiro capítulo anuncia a graça: “Foi do agrado de Deus, em Sua bondade e sabedoria, revelar-se a Si mesmo”. A iniciativa é puramente de Deus e o que O move é o amor. É importantíssimo, para o conceito de História da Salvação como única história humana – e isto é fundamental para a Teologia da Libertação – o que se diz no nº 3: Deus já se revelara a Si mesmo a nossos primeiros pais, “viam salutis supernae aperire intendens” (com a intenção de abrir via de superior salvação). E mais: “cuidou do gênero humano, para dar vida eterna a todos os que buscam a salvação com perseverança nas boas obras”. No nº 20, ao falar dos escritos do NT, salienta-se que “proclamam a força salvadora da obra divina de Cristo”. E no nº 21 se diz que, através dos livros sagrados, “o Pai sai amorosamente ao encontro de Seus filhos para conversar (estabelecer convívio, intimidade) com eles”. Para que se dê a resposta da fé, é “necessária a graça de Deus, que precede e nos ajuda, junto com o auxílio interior do Espírito Santo, que move o coração, converte-o a Deus, abre os olhos do espírito e concede a todos(as) gosto para aceitar e crer na verdade”. E acrescenta-se que são os dons do Espírito, quer dizer, não nosso esforço em boas obras, que aperfeiçoam a fé para compreender mais profundamente (cf. nº 5).
Temos nestas afirmações outra ponte significativa para o diálogo ecumênico, pois fica bem explícita a centralidade e suficiência da graça. A propósito, é bom lembrar que Lutero nunca excluiu a importância das boas obras, como o Protestantismo em geral. “Sola gratia” significa a salvação por decisão e ação unicamente de Deus. As obras, porém, são importantes enquanto “meios” de manifestação da transformação pela graça, e como gesto humano de gratidão e louvor. Há um texto em que ele mesmo dizia mais ou menos assim: Eu nunca disse que não é preciso praticar boas obras; o que eu digo é que as obras não nos justificam diante de Deus. Mas a fé nem se pergunta se é preciso fazer obras, pois as faz naturalmente, uma vez que “a fé opera pelo amor”. A afirmação da suficiência da graça levaria a repensar a instrumentalidade da Igreja e, particularmente sua “sacramentalidade”. Aqui em muito ajudaria a reflexão antropológica sobre o que significa “símbolo”. O ser humano é essencialmente “simbólico”, quer dizer, constrói-se enquanto se expressa, a incapacidade de expressar-se equivale a fechamento e morte, quando se exaure todo dinamismo construtivo de vida. Daí, ser impossível separar as duas dimensões constitutivas do “símbolo, a de “sinal” manifestativo da realidade e a de “instrumento” ou meio construtivo da realidade, o que aliás está magistralmente formulado logo no início da Constituição “Lumen Gentium”, sobre a Igreja. É na chave do “símbolo” que se deve repensar a identidade da Igreja. Com efeito, não existe fé puramente mental, já que o ser humano é uma unidade de “espírito encarnado”. Fé são, simultaneamente, a convicção de novos valores e sua prática, ou seja, as obras nada mais sãoque a fé em ato, a fé que transparece em nossa condição material, que passa de visão e sentimento às mãos (operar) e aos pés (caminhar). De fato, não há “fé e obras”, mas só a Fidelidade que “opera pelo amor”, a saber, se manifesta em obras de amor, o mesmo que serviço. Fé, amor e esperança são um único dinamismo existencial.
“Sola Fides”
O nº 5 fala da fé como resposta à Revelação. Se comparamos os quatro esquemas sucessivos do Documento, observamos a grande mudança que se operou. No primeiro esquema, a ênfase recai sobre a aceitação da doutrina revelada. Nos seguintes, o acento vai-se deslocando para a ação da graça e do Espírito Santo, e no terceiro já se menciona o “mover do coração” e a “conversão a Deus. A redação final chega a maior coerência com o que se diz no início sobre a natureza da Revelação. Desde o segundo esquema, vem a referência à expressão paulina “obediência da fé”, mas, além de citar o Concílio Vaticano I, “plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium”(pleno obséquio do intelecto e da vontade a Deus que revela), acrescenta-se “qua homo se totum libere Deo comittit” (pela qual o ser humano se confia – se entrega – todo e livremente a Deus) , em consonância com o que se declara no nº 2 sobre a Revelação: “Deus revela-se a Si mesmo”. Ou seja, uma visão da fé mais integral e personalistaque expressa a totalidade da pessoa em sua entrega a Deus que dela Se aproxima e comunica a Si mesmo.
É evidente que se poderia ter dito muito mais, a partir da revalorização do conceito bíblico de fé, incluindo a firmeza em fundamento inabalável e a fidelidade, e da reflexão da teologia contemporânea, especialmente ajudada pelo Existencialismo, o Personalismo e o apelo insistente do Movimento Socialista ao engajamento gratuito (amor) e corajoso sob a atração da Promessa, atração que é a fonte da esperança, a outra dimensão da tríade paulina: fé, esperança, amor (cf. 1Cor 13, 13). Poder-se-ia ter levado ainda mais em conta as afirmações da própria Constituição sobre a natureza da Revelação. Percebe-se no texto a intenção de avançar e ao mesmo tempo conceder à corrente preocupada com afirmações do Magistério no Vaticano I, quando a intenção era afirmar “a verdade revelada” em oposição ao Racionalismo. Ainda se deve considerar o temor de ceder à visão protestante do que se julgava uma pura “fides fiducialis” (fé confiança), sem dar atenção ao conteúdo de “verdades reveladas”. De qualquer maneira, com a visão expressa no nº 5, dá-se um passo adiante na formulação do conceito de fé, do ponto de vista das relações ecumênicas. Primeiro, por uma maneira de falar mais bíblica; depois, com a insistência na ação da graça e a menção do Espirito Santo, o qual “cor moveat et in Deum convertat” (que mova o coração e o converta a Deus); finalmente, situando o “obséquio do intelecto” na atitude global de entrega total de si mesmo do ser humano, o que é um ponto de encontro fundamental com a visão protestante da fé como sendo, antes de tudo, entrega confiante do ser humano ao Mistério de Deus. A ênfase na fé como obra da graça de Deus deixa muito claro que se exclui qualquer resquício de Pelagianismo ou de Semipelagianismo, pois para o “initium fidei” (o início da fé) já é “necessária a graça de Deus”, “preveniente et adjuvante” (que se antecipa e auxilia). Sem dúvida, o caráter das “obras” é só manifestativo, não de mediação ou instrumental para que “se mereça” o dom da fé. O que ficou ainda mais claro há poucos anos atrás com o acordo entre católicos romanos e luteranos sobre a Justificação.
De acordo com a mais pura tradição católica, só o ato sobrenatural da fé dá acesso à obra salvífica de Cristo. Qualquer esforço humano ou raciocínio pode apenas levantar perguntas e sugerir “razoabilidade”, nunca “racionalidade” de argumentos humanos. Não se pode esquecer ainda que a fé não é apenas assentimento a verdades reveladas. É, antes, um ato global de confiante entrega, comunhão e obediência, quer prática, quer volitiva e intelectual. É sempre uma compreensão de amor. Para Lutero, o pecado é, em sua raiz, manifestação de incredulidade e, como tal, de idolatria, infidelidade e rejeição do Deus vivo. Para Santo Tomás, igualmente, o assentimento da fé se dá sob o império da vontade, enquanto a vontade determina a inteligência, pois “pela fé o espírito percebe o que espera e ama” (cf. Secunda Secundae, Quaestio 62 a 64). Pois a certeza da fé não vem da evidência da verdade, mas da adesão à Pessoa que a garante; é, assim, inferior em evidência, mas superior em firmeza. Para a Bíblia, justamente, a primeira dimensão da fé é a firmeza da confiança em Deus que se aproxima de nós. Assim, segundo Santo Tomás, a adesão é, em, primeiro lugar, à pessoa e secundariamente a verdades ditas por ela: o ato de crer “non terminatur ad ennuntiabile, sed ad rem” (não se conclui com a aceitação do que se diz, mas com a adesão à realidade) , isto é, Deus como fonte da felicidade. Não devemos esquecer a famosa distinção clássica em teologia: “credere Deo” (confiança na Testemunha) e “credere in Deum” (esperança escatológica de comunhão com Ele) são o que fundamenta “credere Deum” (verdades reveladas). O movimento da fé nos faz ter acesso a Deus que responde a nossa angústia por felicidade (Bondade) e ilumina nossa realidade existencial (Verdade).
“Sola Scriptura”
É claro que essa afirmação tem relação direta com o tema da Tradição e do Magistério (que, aliás, é um dos elementos da Tradição). Por isso foi um dos eixos mais importantes e de maior tensão no processo de redação do documento.
O capítulo segundo começa com a afirmação de que Jesus comunica Sua Revelação aos Apóstolos em vista da salvação. E já começa a alargar-se o conceito de Tradição, pois os Apóstolos ”cumpriram o mandato com sua pregação, seus exemplos, suas instituições”. Ou seja, já não se identifica Tradição com “depósito doutrinal”. Além disso, já se insinua a unidade íntima entre Tradição e Escritura quando se diz que “os mesmos Apóstolos e outros de sua geração puseram por escrito a mensagem da salvação inspirados pelo Espírito Santo”. No final do nº 7, a formulação da frase é significativamente no singular, sugerindo íntimo nexo entre as duas: a Santa Tradição e a Sagrada Escritura “veluti speculum sunt in quo Ecclesia in terris peregrinans contemplatur Deum” (são como espelho em que a Igreja peregrina na terra contempla a Deus). Também no nº 8, se amplia a imagem da Tradição: ”O que os Apóstolos transmitiram compreende tudo o que é necessário para uma vida santa e para uma fé crescente do Povo de Deus; assim, a Igreja com seu ensinamento, sua vida, seu culto, conserva e transmite a todas as gerações tudo o que é e tudo o que crê. Esta Tradição apostólica vai crescendo na Igreja com a ajuda do Espírito Santo”. E logo em seguida se diz que cresce acompreensão das “coisas e das palavras transmitidas”, tanto pela experiência dos fiéis, como pela proclamação dos Bispos. E continua a insistência em falar da Tradição como movimentovivo e atual, resultante da relação amorosa entre o Filho e a Esposa, mediante o Espírito Santo, e que se cristaliza “na prática e na vida da Igreja que crê e ora”. E de novo se menciona aexperiência dos fiéis como sujeito da Tradição.
O nº 9, cuidadosamente, busca superar a imagem de “duas fontes” da Revelação. Fala-se de Tradição e Escritura estreitamente unidas e comunicantes (interpenetradas), surgindo da mesma fonte divina, “in unum quodammodo coalescunt et in eundem finem tendunt” (em uma só coisa de algum modo se unem e para o mesmo fim se orientam). É muito significativa a afirmação final, introduzida no último esquema por proposta direta do Cardeal Bea: “A Igreja não haure exclusivamente da Sagrada Escritura sua certeza acerca de todas as coisas reveladas”. De um lado, reconhece-se o papel da Tradição. Doutra parte, evita-se entrar na disputada questão da extensão material dessa em relação à Revelação. Ou seja, apela-se para a Tradição quanto ao aspecto formal de chegar à certeza da Revelação, não quanto a sua extensão material. No nº 10, volta-se a insistir na unidade “do único sagrado depósito da Palavra de Deus”. E relaciona-se imediatamente isso com a unidade do povo cristão em torno dos pastores, perseverante na doutrina apostólica, na comunhão, na fração do pão e na oração. Mais uma vez se menciona o Povo de Deus como sujeito que acolhe a Revelação, a transmite e experimenta seu crescimento por obra do Espírito Santo. Ou seja, o papel do Magistério é redimensionado, em íntima conexão com o “sentir comum dos fiéis” e com a tarefa de ser a expressão “autêntica”, isto é, autoritativa, enquanto arauto do conjunto da Igreja, mas não a única expressão legítima da fé da Igreja. À luz dessas afirmações, é preciso ter presente que a distinção entre “Ecclesia docens” e “Ecclesia discens” (Igreja que ensina e Igreja que aprende) é inadequada, pois todos os membros da comunidade cristã permanecem sempre discípulos(as) e aprendizes, e “pela boca do menor dos irmãos pode estar a falar o Espírito Santo”. Aqui está, evidentemente nas entrelinhas, o “livre exame das Escrituras”, só que considerado em sua forma de exame comunitário das Escrituras. Sem dúvida, reafirma-se também, ao longo do documento, a função instrumental do Magistério, de garantir a pureza e integridade da fé e de instruir o povo cristão. Finalmente, porém, lembra-se, e isto é ecumenicamente muito importante, que “o Magistério não está acima da Palavra de Deus, mas a seu serviço”. E, além disso, se distingue bem a função única dos Apóstolos e a dos Bispos. Não se deve esquecer que o papel do Espírito Santo é reiteradamente mencionado, garantindo, assim, a unidade profunda e a interconexão de Escritura, Tradição, Magistério e “sentir comum dos fiéis”, pois o mesmo que assiste e guia a vida da Igreja é o que inspira os textos da Sagrada Escritura.
No nº 12, quando se trata da interpretação da Bíblia, diz-se que deve ser lida “no mesmo Espírito com o qual foi escrita”, o que lembra Lutero ao falar da leitura crente “sob a iluminação do Espírito Santo”. Outros critérios são a Tradição viva de toda a Igreja, a analogia da fé e a unidade de toda a Escritura, critério também muito caro a Lutero, quando dizia que “é a Bíblia que explica a Bíblia”, como era a prática dos Pais da Igreja, os quais, a partir de um determinado texto, percorriam toda a Bíblia como “profecia” de Cristo e da vida cristã, de acordo com a distinção entre “sentido literal ou histórico” e “sentido plenior” (mais pleno): alegórico (referente a Cristo e à Igreja), tropológico (referente à prática da vida cristã) e anagógico (referente à esperança escatológica). A importância da Sagrada Escritura já se percebe por serem dedicados a ela três capítulos da Constituição: o terceiro, o quarto e o quinto. É inspirada pelo Espírito Santo, de modo que, embora produto de autoria humana, Deus é sua última causa. Faz-se em seguida uma afirmação de grande peso teológico: a condescendência divina, de falar em linguagem humana, é semelhante ao que acontece na Encarnação do Verbo eterno do Pai, “humanae infirmitatis assumpta carne” (assumida a carne da fragilidade humana) (nº 13). Na Bíblia temos o documento privilegiado da longa e maravilhosa história da aliança de Deus com a humanidade, a partir do povo de Israel, e mediante ações e palavras. Ressalta-se o lugar excelente do Novo Testamento na economia da salvação, não só enquanto documento, mas também enquanto “instrumento”: “A Palavra de Deus que é força de Deus para a salvação de quem crê, nos escritos do NT praecellenti modo praesentatur et vim suam exhibet” (nº 17) (de modo extraordinário se apresenta e revela sua força).
Chama particularmente a atenção o que se diz no capítulo sexto, quando se trata de “a Sagrada Escritura na vida da Igreja”. Inicia-se com uma declaração teologicamente densa e, de certa forma, surpreendente para quem vinha do clima instaurado pelo Concílio de Trento na Igreja Romana: “a Igreja venera a Sagrada Escritura assim como o faz com o Corpo de Cristo”, e acrescenta-se que o Pão da Vida é distribuído aos fiéis em forma de Palavra de Deus e do Corpo de Cristo. Em seguida, diz-se que as Escrituras, unidas à Tradição, são a suprema regra da fé, inspiradas por Deus e com o privilégio de terem sido postas por escrito uma vez para sempre, de tal modo que por elas se transmite de modo imutável a Palavra de Deus. Toda a pregação da Igreja “tem de ser nutrida e regada” pela Escritura. Diz-se ainda que, mediante os livros sagrados, “o Pai do céu vem ao encontro de Seus filhos e conversa com eles”. Finalmente, “ é tão grande o poder e a força da Palavra de Deus (nas Escrituras, subentende-se) que constitui sustentáculo e vigor para a Igreja, firmeza de fé para seus filhos, alimento da alma, fonte límpida e perene de vida espiritual”. E aplicam-se à Bíblia as palavras de Hebreus 4, 12: “A Palavra de Deus é viva e cheia de energia, capaz de edificar e de dar a herança a todos os consagrados”. No nº 24, afirma-se que “a Sagrada Escritura deve ser a alma da teologia” e é ela que tem de estar no centro do ministério da Palavra, isto é, na pregação pastoral, na catequese, na instrução cristã e na homilia. E no nº 25 se recomenda insistentemente a leitura e o estudo assíduo das Escrituras para que se adquira “a ciência suprema de Jesus Cristo”, pois “desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo”. E não se pode esquecer que tal leitura, antes de tudo, tem de ser orante e contemplativa. De tal modo se exalta a Sagrada Escritura que, se, por um lado, é pela Tradição que a Igreja chega ao conhecimento do Canon da Bíblia (cf. nº 8), por outro lado, é a Bíblia a instância suprema de controle da Tradição e, consequentemente, do Magistério (cf. nº 21). É justamente essa a razão de ser do Canon como a regra e a suprema referência para medir a fidelidade à Revelação divina.
Vê-se claramente a importância decisiva dessas afirmações para o diálogo ecumênico. Afinal de contas, a volta às Escrituras e a reivindicação do “livre exame” pelo povo estiveram no centro da Reforma, juntamente com a restauração do conceito de “sacerdócio comum dos fiéis”, reafirmado com força na Constituição “Lumen Gentium”. Não se deve esquecer, porém, que, quando se proclama “sola Scriptura”, não se trata da “nuda littera” (a letra nua, só a letra puramente), mas de leitura debaixo da iluminação do Espírito Santo. Quando o Concílio ressalta a importância e o papel do Espírito Santo está prestando precioso serviço à compreensão do que se entende por Tradição no Catolicismo. Quando a sensibilidade católica insiste em “leitura da Bíblia na Tradição”, ou seja, na vida da Igreja animada pelo Espírito, não estamos mais perto daquilo que o Protestantismo entende por “leitura da Bíblia sob a iluminação do Espírito Santo”, como Palavra viva?
Um passo muito importante para a compreensão ecumênica das relações entre Escritura e Tradição tem sido a própria pesquisa acadêmica protestante, além da percepção da importância das tradições confessionais ao longo da história. Percebeu-se claramente que a Bíblia é resultado da Tradição. Na verdade, é a progressiva fixação por escrito das diversas tradições de vida do Povo de Deus ao longo de sua história. Uma vez constituídos os escritos, a Tradição prossegue, pois a vida prossegue, tendo a partir desse ponto como um de seus elementos-chave a Escritura como memorial do testemunho apostólico e, por isso, “regra” e instância de controle. Não se deve esquecer a razão concreta por que se escreveram as “memórias dos Apóstolos” na medida em que ia desaparecendo a primeira geração, ou seja, para ser a referência para a Tradição. No mundo protestante aviva-se o interesse por refletir sobre o papel da Tradição. Exemplo disso foi a IV Conferência da Comissão de Fé e Constituição, do Conselho Mundial de Igrejas, realizada em Montréal, Canadá, em julho de 1963, sobre “Escritura, Tradição, tradições”. Permanece em aberto a pergunta em torno do papel da Tradição uma vez surgida a Escritura: apenas “interpretativo” ou também “constitutivo”. É claro, no momento em que o Concílio abre a compreensão de Tradição muito para além do “depósito de verdades”, e não a identifica com o Magistério, mas insiste na vida global da Igreja guiada pelo Espírito Santo, e lembra que o Povo de Deus em conjunto é o sujeito que acolhe a Revelação, nesse mesmo momento estendem-se pontes de diálogo com a linguagem da Reforma. Outro elemento importantíssimo para o diálogo é o critério cristocêntrico enfatizado por Lutero acima da “nuda littera”: é Palavra de Deus o que conduz a Cristo. Isto abre a leitura das Escrituras ao conjunto mais amplo da experiência da fé na vida da Igreja, a saber, à Tradição viva como experiência salvífica da obra de Cristo.
Deve-se dizer ainda que a Antropologia tem trazido elementos esclarecedores para compreender o que significa “tradição”. Na verdade, equivale ao processo pelo qual um grupo humano recebe e transmite a globalidade de sua vida, suas vivências, histórias, suas produções de todo tipo, instituições, costumes, criações artísticas, invenções técnicas, princípios, valores e normas de vida… Assim, a tradição é sempre a vida de um povo que se transmite ao longo do processo histórico: recebe-se no presente o que se transmite do passado, vivencia-se e reinterpreta-se tudo isso e se o transmite às gerações futuras. Em outras palavras, tradição é o mesmo que história, com passado, presente e futuro. São, na verdade, memórias do vivido que se transformam em propostas para o futuro. E o que se escreve – o “livro”— não se pode desligar das vivências concretas, de seu contexto de origem, e do processo da vida que continua adiante. O que se documenta em monumentos e escritos são expressão da vida do povo e pretendem condicionar-lhe as vivências futuras. Ou seja, o “texto” surge e corre no fluxo da tradição É o que vemos claramente, por exemplo, nos escritos que constituem a chamada “Lei de Moisés”, de Gênesis a Deuteronômio (cf. p.ex. Dt 6, 20-25; Dt 17, 14-20; 1Sm 8, 10-18). As vivências futuras, por sua vez, entrarão em diálogo ou em conflito com o “livro” e o perceberão em suas entrelinhas, “por trás das palavras” ou “para além das palavras”. Há, assim, íntima conexão entre vida e livro, sendo este último um elemento a mais, e decisivo, no próprio processo de transmissão da vida coletiva, como bem o percebeu o Apóstolo São Paulo (cf. 2Cor 3).
Tudo isto tem provocado aproximação entre os dois campos, o do Catolicismo e o do Protestantismo. De seu lado, o Catolicismo, cada vez mais, redescobre a importância decisiva da Bíblia; doutro lado, o Protestantismo percebe sempre mais claramente a importância da Tradição. Na própria Bíblia, o processo de transmitir (“parádosis”, em grego) é, simultaneamente o de “re-atualizar”, “re-presentar”, mediante novas vivências e reinterpretações. Foi, na verdade, esse processo de “re-interpretações” sucessivas, o processo gerador da própria Bíblia, como bem nos mostra o grande biblista Carlos Mester, em seu belo livro “Por trás das Palavras”, um clássico da literatura teológica entre nós. Como desligar, então, Bíblia e Tradição? O Concílio põe o acento na “traditio activa”, o ato de transmitir, muito mais do que nas coisas transmitidas, “traditio passiva”. E faz questão de não identificar a Tradição apenas com verdades doutrinais. Trata-se de “tudo o que a Igreja é, tudo o que tem e tudo o que crê”.
5. Compreender a Reforma
Para prosseguir no diálogo ecumênico, a meu ver, é preciso, antes de qualquer outra coisa, ter bem presente que Catolicismo e Protestantismo não são, necessariamente, contraditórios, mas complementares, e o Anglicanismo tem sido uma tentativa histórica de realizar e manifestar essa difícil e tensa “via media”. Por mais estranho que possa parecer, as proclamações centrais da Reforma nada mais eram que ênfases católicas deixadas na sombra por séculos. Para perceber isso, faz-se necessário compreender alguns condicionamentos da Reforma.
O movimento reformador já vinha tomando corpo desde o século XII. Pensemos no importante movimento inspirado pelo abade Joaquim di Fiori, nos valdenses seguidores de Padro Valdo, em São Francisco de Assis, inspirador do movimento franciscano que logo se desdobrou em seus diversos ramos, desde a corrente liderada por São Boaventura até “os espirituais” e os “fraticelli”; pensemos em São Domingos de Gusmão, líder dos “frades pregadores” ou dominicanos; pensemos em tantos eremitas e místicos e em grandes mulheres, quer abadessas, quer conselheiras, quer “bruxas”… Na verdade, tratava-se de amplo movimento popular de avaliação e de protesto em face do sistema medieval. Não era só um simples movimento de protesto religioso, mas de cunho econômico, social, político e cultural. Era a quebra da economia feudal e a passagem para o capitalismo nascente. Era a reivindicação de autonomia das cidades e da liberdade dos cidadãos. Era a quebra do Sacro Império Romano Germânico, com a afirmação do nacionalismo e o surgimento de nações na Europa, como, por exemplo, Alemanha, Suiça, Inglaterra. Era a ruptura com o dogmatismo e a dominação clerical das consciências. Ao dogma vai-se opor o Humanismo como libertação do pensamento e estímulo à pesquisa e à análise; à rigidez de uma sociedade quase sem mobilidade social, vai-se opor o individualismo, a iniciativa do “indivíduo” para além de sua condição de berço, nobre ou plebeu, a possibilidade de ascensão social. Tratava-se de uma ruptura revolucionária, cujo mote era “libertas christiani” (liberdade do cristão). O Papa Gregório VII, no século XI, havia deflagrado grande reforma da Cristandade sob o lema de “libertas Ecclesiae” (liberdade da Igreja). Conseguira, de fato, purificar a Igreja de muitos abusos e vícios (como as famosas investiduras, a simonia, a excessiva intromissão dos poderosos nos negócios eclesiásticos…), mas selara a ruptura entre clero e laicato, ao libertar o “poder sacerdotal” do “poder leigo”, pois os príncipes eram, na verdade, o laicato representativo na Cristandade. Agora, com a Cristandade dominada ideologicamente e, em boa parte, politicamente pelo clero, era preciso reivindicar a “liberdade do cristão”, do leigo, no seio da Igreja, e não esquecer que “Ecclesia” identificava-se com a sociedade europeia. Toda ruptura social e política tinha de ser necessariamente também ruptura religiosa, uma vez que a Igreja era a legitimação ideológica suprema do regime de Cristandade. É só a Revolução Francesa de 1889 que vai traduzir e secularizar essas categorias: “liberdade do cidadão”. Nessa situação, o clima era naturalmente polêmico, de conflito e de radicalização, conforme descreve tão bem José Comblin em seu livro “Théologie de la Révolution” (primeiro volume).
O clero, sobretudo o alto clero, havia protagonizado a ruptura com o poder leigo no século XI. Os reformadores, agora, seriam os arautos privilegiados da nova transição histórica, de modo semelhante ao papel dos “enciclopedistas” no futuro. É nesse contexto revolucionário que temos de interpretar e compreender sua linguagem. Da sensibilidade formada pelo método dedutivo, passa-se ao método indutivo, com base na experiência. A legitimação sacral do poder, formulada no “direito divino do príncipe”, vai dando lugar ao sentimento da dignidade humana como tal. Passa-se, progressivamente, da linguagem da Escolástica – essencialista e jurídica – à linguagem da Bíblia. Da metafísica à linguagem existencial da experiência humana. Das definições por exclusão, à linguagem dialética da coexistência de contrários. Busca-se superar a lacuna entre sagrado e profano mediante a experiência pessoal. Para isso em muito contribuía a teologia mística, do Mestre Eckart, por exemplo, que tendia a minimizar a importância das mediações sagradas, como os sacramentos. Duns Scoto, famoso filósofo e teólogo franciscano, havia deixado como herança a precedência da vontade divina sobre o intelecto, precedência da decisão sobre a verdade, do querer sobre o ser: Deus estabelece a “ordem” por promessa ou por Sua palavra, a liberdade determina o ser. Com efeito, a liberdade faz do ser o que quer, não se define pela “natureza” já dada, mas pela “decisão” da vontade, por isso Deus pode tornar-se “carne”, fazer-se humano, para confusão de todos os filósofos da “natureza” ou das essências.
Analistas desse período histórico ressaltam como, na crise, aflora intensamente o sentimento de ansiedade e de medo. A viragem da civilização provoca profunda sensação de insegurança e angústia. Intensifica-se o medo da morte (medo de não ser), a angústia da culpa e a perda de sentido da vida. Ademais de todas as transformações estruturais e culturais, é um período de graves calamidades, de fome, peste e guerra. Um dos sintomas mais perturbadores da crise foi o fenômeno impressionante da “bruxaria” e o ardor persecutório aos hereges. Na verdade, muitíssimos dos hereges nada mais eram que pessoas críticas, dissidentes, que protestavam contra a rigidez do sistema autoritário papal e da ordem feudal. Interpretavam os sentimentos de multidões descontentes. “Bruxas” eram, na verdade, mulheres que buscavam corajosamente nova condição e papel na sociedade, muitas delas grandes lideranças. É na complexidade desse contexto histórico que devemos escutar a proclamação profética da Reforma, infelizmente tão incompreendida pelo sistema estabelecido da época. Quando Lutero diz “solus Christus” não está necessariamente a negar a Igreja, e sua própria prática o demonstra; “sola gratia” não exclui necessariamente as boas obras como manifestativas da graça, exclui, sim, aquelas que são consideradas mediações ou méritos adquiridos para conquistar a salvação; “sola fides” não exclui a sacramentalidade da Igreja e os chamados “meios de graça”, contanto que sejam considerados “sinais” da soberana ação de Deus que nos justifica; “sola Scriptura” não exclui por si mesma a Tradição, desde que se tenha em conta a moção vital do Espírito Santo que habita o corpo da Igreja e a conduz na história, e é iluminação para que cada crente seja guiado a perceber a autêntica Palavra de Deus nas Escrituras. Não é muito fácil compreender isso, mas se escutamos essas afirmações no horizonte de linguagem dialética, é possível estabelecer diálogo. Como, por exemplo, é possível perfeitamente entender o que significa “simul justus et peccator”, o que foi tão difícil com as categorias escolásticas decorrentes do “princípio de identidade”. Como é possível entender também quando Lutero diz: “Peca abundantemente e crê ainda mais abundantemente!” Ou “Ecclesia reformata semper reformanda” (A Igreja reformada sempre deve ser reformada). Mas os Pais da Igreja não falavam da “casta meretrix” (casta meretriz), referindo-se à Igreja, santa e pecadora? Não sabiam que a Igreja “começara” com Jesus e Seus apóstolos e, no entanto, diziam que a origem da Igreja é “ab Adam” (desde Adão)? E o dogma do Purgatório, em sua aparência tão antiprotestante, por incrível que pareça, não é, na verdade, a intuição protestante de “simul justus et peccator”, levada ao extremo do momento escatológico? Com efeito, apesar de todo o seu invólucro medieval, na representação e nas formas de piedade daí decorrentes, não se trata, em seu núcleo, de que chegamos finalmente a Deus sem merecê-Lo, sendo ainda necessitados(as) de purificação? O mais é invólucro cultural do Medievo. A meu ver, quando refletimos sobre o contexto concreto das afirmações polêmicas daquela turbulenta época, quem sabe, nos convencemos de que, em grande medida, o que resultou foi um grande equívoco. Um de meus professores de Teologia, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Zoltan Alzeghy chegou a dizer em sala de aula: “Lutero foi um caso da mística e não teve interlocutor à altura, pois já falava em linguagem moderna, quando os teólogos da época permaneciam a pensar em categorias medievais”. O acordo católico-luterano sobre a Justificação veio revelar com mais clareza uma verdade trágica: passamos cinco séculos julgando e nos combatendo, com o pressuposto de que pensávamos a Verdade em margens opostas. Que terrível equívoco! E quanta animosidade, violência e até morte com a intenção de “defender” um Deus que, de Sua parte, se deixa matar nas vítimas do sistema deste mundo! Faz alguns anos, a Igreja Católica Romana e a Federação Luterana Mundial firmaram acordo quanto à doutrina da Justificação pela Fé. Ora, a Justificação pela fé foi a chave doutrinal da Reforma. Um colossal equívoco de cinco séculos. Anos antes, o teólogo alemão Hans Küng havia defendido tese de doutorado demonstrando a coincidência fundamental entre a doutrina da Justificação no Concílio de Trento e a teologia de Calos Barth. Foi um evento ecumênico de primeira grandeza. Justamente o Concílio que condenara as “teses” reformadas. No prefácio à publicação da tese, Barth reconhece que Küng havia exposto seu pensamento com exatidão, restava aos teólogos católicos dizer se o mesmo tinha feito com Trento. E concluía mais ou menos assim: Se se reconhecer que Küng é fiel expositor da doutrina do Concílio, só me resta voltar a Trento, entrar na basílica de Santa Maria, ajoelhar-me no chão e confessar: “Patres, peccavi” porque por toda a vida pensei que pensava diferente”. Outro evento importante foi a Tradução Ecumênica da Bíblia, em francês, coincidindo com o período do Concílio Vaticano II. Decidiu-se começar pelo pomo da discórdia, a Epístola aos Romanos. Trabalhava-se a quatro mãos, Estanislau Lyonet, católico romano, do Instituto Bíblico de Roma, e Leenhardt, exegeta protestante, se não me engano, suíço. O compromisso era de redigir notas explicativas dúplices quando a interpretação fosse inconciliável. E veio a grande surpresa: em nenhum momento as notas não foram únicas, concordes. E ficou no ar a grande pergunta: Se isso foi possível com Romanos, o documento da discórdia, detonador da Reforma, será que ainda nos resta algo fundamental que nos impeça o caminho da unidade? Foi por estas e outras que alguém me contou que, ao participar de uma conferência pública pronunciada em Munique pelo grande teólogo luterano Pannenberg, dele ouviu com surpresa: “O que ainda nos divide são memórias históricas e barreiras canônicas, nada mais que isto, nada de teologicamente significativo”.
Volto a lembrar a palavra do Bispo que me ordenou na Igreja Anglicana, quando costumava dizer que continuamos divididos por razões de mortos, enquanto o povo vivo de hoje nos oferece todas as razões para nos unirmos. Dom Helder, em entrevista em Paris, foi também longe: “Quando nós, as Igrejas cristãs, resolvermos assumir realmente as preocupações de Deus, que são as questões da vida de Seu povo, então teremos vergonha de nossas divisões, pois nos parecerão cousa tão pequenina”. E eu mesmo costumo lembrar que a vida do povo não nos pergunta primeiro por “confissões de fé”, mas por “soluções de fé”.
Certamente, o diálogo ajudará a esclarecer e equacionar melhor muitas questões ainda pendentes. O lado “católico” da Igreja poderá ser ajudado a reformular certas afirmações e sobretudo certas práticas, na medida em que tenha em conta o Ecumenismo, no sentido mais amplo possível, com o cuidado de formular a verdade católica de tal modo que seja inteligível aos outros ramos da Cristandade, o que era a insistência do Papa João XXIII e do Cardeal Bea, quando se referiam a expor a doutrina tendo em conta as relações ecumênicas e a mentalidade contemporânea. Hoje chamaríamos também a atenção para o fenômeno do pluralismo religioso. Infelizmente, a corrente liderada pelo Cardeal Ottaviani sempre interpretava isso como ceder ao Protestantismo e ao “espírito modernista”. Por exemplo, como reavaliar a prática litúrgica e devocional da Igreja, o que teve início já no próprio período conciliar, em relação ao lugar de Maria, Mãe de Jesus, e a santos e santas, heróis e heroínas da fé, a partir da centralidade de Cristo e numa perspectiva mais bíblica, como se vê, por exemplo, na Epístola aos Hebreus capítulo 11? Como viver a comunhão na Igreja como realidade manifestativa da salvação (“sinal”) e, ao mesmo tempo, “instrumento” de transformação salvífica das pessoas, sem parecer esvaziar o lugar único e suficiente de Cristo? Aqui são fundamentais as categorias antropológicas a serem usadas, particularmente, para viver e falar dos “sacramentos” como “símbolos” da realidade da salvação, isto é, como diziam os medievais, junção da dimensão exterior, visível, “sacramentum tantum” (“só sinais” em coisas, gestos e palavras), com a dimensão interior, “res” (“realidade” da graça salvífica em nós, enquanto pessoas e comunidade) e, finalmente, a dimensão de mediação, “res et sacramentum”, nós que somos, ao mesmo tempo, “sacrário” invisível (“res”) e sinais reveladores de Sua presença no mundo: “sinais visíveis da Graça invisível”. A “sacramentalidade da Igreja”, antes de ser produzir “sacramentos” (sete ou dois), deve ser compreendida como sendo ela mesma o sacramento fundamental, cuja base última é a própria sacramentalidade da criação, sacramento originário, as coisas criadas a carregar o “segredo” da Palavra (cf. Gn 1; Pr 8; Jó 28); e Jesus, o sacramento primordial, como se vê nos evangelhos (cf. Jo 5; 14, 8-21). Então, “solus Christus” não soará como necessariamente excludente da Igreja. Do mesmo modo, a sacramentalidade da Igreja se pode conciliar perfeitamente com a “sola fides”. Assim como as “obras” em nada se opõem à ”sola gratia”, como afirmava o próprio Lutero. Cuidadosamente, é possível mostrar como a Tradição não exclui a “sola Scriptura”. Além disso, a centralidade do Ministerium Verbi (ministério da Palavra) se combina perfeitamente com a centralidade da mesa eucarística, sacramento do Corpo de Cristo, que é a Igreja.
O lado “protestante” da Igreja poderá ser ajudado a reavaliar alguns pontos até hoje ainda não satisfatoriamente equacionados pelo mundo descendente da Reforma: a insistência na Palavra/Bíblia levou a obscurecer a importância primordial dos “acontecimentos” na Revelação e, consequentemente, da Encarnação e da Criação, e da Tradição; o ministério da Palavra de Deus instalado no centro da Igreja não pode ser praticado como se a Palavra se confundisse com a palavra, a vontade e a ideologia da liderança pastoral; o individualismo antropológico que está na raiz da Modernidade ainda hoje é um condicionamento importantíssimo do mundo protestante, que não lhe permite ultrapassar certas barreiras teóricas e práticas. Daí decorre a dificuldade eclesiológica de compreensão adequada da sacramentalidade da Igreja, enquanto comunidade de salvação, ou seja, a “comunidade” como “ambiente” em que se experimenta a eficácia da graça, uma vez que “graça” é o mesmo que “amor”: crescemos e melhoramos como pessoas na medida em que experimentamos amor (comunidade). Sem falar, naturalmente, do fenômeno, que se acentua no Brasil, da animosidade entre Protestantismo e Catolicismo.
6. É preciso prosseguir
A Constituição dá um passo importante no sentido de estimular o trabalho conjunto e ecumênico de leitura e interpretação da Bíblia, quando reconhece a legitimidade dos métodos da moderna “crítica” bíblica, a qual tem sido feita sobretudo em campo protestante, dada a liberdade de pesquisa e de opinião aí reinante. O nº 12 é o mais explícito a esse respeito, levando adiante o que já vinha sendo elaborado no Magistério oficial a partir de Leão XIII, na encíclica “Providentissimus Deus”, prosseguindo com Bento XV, na “Spiritus Paraclitus” e, particularmente, com Pio XII, na “Divino Afflante Spiritu”, na qual, dizem, a mão de Agostinho Bea, então reitor do Pontifício Instituto Bíblico, esteve intensamente presente.
No nº 22, fala-se explicitamente sobre a colaboração entre exegetas católicos romanos e outros cristãos quando se trata de traduzir a Bíblia. Infelizmente aí a terminologia ainda não é a melhor, pois são tratados como “irmãos separados”.
Evidentemente desde o Concílio até nossos dias muita coisa tem acontecido. Tem havido, por
exemplo, um intenso intercâmbio entre editoras católicas e protestantes na tradução, edição e distribuição de livros. Muitas escolas de Teologia têm entre seus quadros docentes e discentes pessoas de diversas denominações. Em nosso país, temos caminhado com Campanha da Fraternidade Ecumênica, Dia Mundial de Oração, participação de diferentes Igrejas no CONIC, no CLAI, no CMI e em organismos ou entidades ecumênicas de educação e de serviço, como CEBI (em São Leopoldo e nos vários estados do Brasil), Diaconia (no Recife), CESE (na Bahia), Koinonia (no Rio), CESEEP (em São Paulo) e tantas outras aqui e em outros países. Um acontecimento importante a ressaltar, além da difusão da Tradução Ecumênica da Bíblia (TOB ou TEB), é a publicação, em ambiente protestante, de versões da Bíblia contendo os deuterocanônicos, também denominados “apócrifos”. Entre nós devemos saudar, como evento auspicioso o acordo que resultou na publicação, por Edições Paulinas, da “Bíblia na Linguagem de Hoje”, com os livros deuterocanônicos.
Finalmente, gostaria de ressaltar algo que, inclusive, tem muito a ver comigo pessoalmente. Há mais de trinta anos temos no Brasil um ”Centro de Estudos Bíblicos”, que é ecumênico desde sua semente. Ao longo do tempo tem irradiado sua influência na direção dos países de nossa Afroameríndia, de alguns países da Europa, particularmente Itália, Alemanha, Áustria e Holanda, e África. Por anos fui seu Diretor Nacional, Coordenador do Programa de Formação e tenho sido assessor. Nasceu da convergência de biblistas e pastores protestantes e pastoralistas e teólogos católicos romanos, e foi justamente o grupo protestante que insistiu em que o encarregado direto da fundação e seu primeiro Diretor fosse o biblista católico Frei Carlos Mesters. O CEBI tem realizado belíssimo trabalho de leitura bíblica em comunidades de diversas denominações e em grupos conjuntos interdenominacionais, caracterizada por ser popular, comunitária, contemplativa e militante. Para essa leitura, “popular” significa ler a partir dos problemas da vida do povo, ler junto com o povo e escutar a leitura que o próprio povo faz, especialmente os pobres. Por isso, diz-se que além de “popular” é “comunitária”, em atitude de atenta escuta do que todas as pessoas enxergam nos textos relacionados com sua vida. Busca-se aliar “popular” e “científico”, pois o sujeito popular e o engajamento militante na sociedade em nada excluem, ao contrário, a Ciência e seus instrumentos de análise e de conhecimento, tanto da realidade quanto dos textos. Dizia um amigo meu, teólogo e militante leigo até hoje, Abdalaziz de Moura, ao começar seu trabalho na pastoral popular no Recife dos anos setenta, em tempos de Dom Helder Camara e da ditadura: “Trabalhar com o povo exige bem mais que Ciência, mas não abaixo desse nível, o povo o merece”. Os fundamentos da Leitura Popular e Comunitária da Bíblia são os seguintes: no campo teologal, a própria Trindade divina, como princípio e modelo de vida, também no que concerne ao modo de estudar, em comunidade, em diálogo crítico e autocrítico; no campo político, a opção por uma sociedade democrática e igualitária; no campo eclesial, a construção de uma Igreja de “comunhão e participação” (cf. Documentos de Puebla) e radicalmente ecumênica, capaz de integrar “substância católica e princípio protestante”, como dizia o famoso teólogo luterano Paulo Tillich, e a serviço da libertação na sociedade, pois a Encarnação o exige; no campo da pedagogia, um processo de estudo coletivo, participativo, como em uma grande universidade popular de troca de saberes, processo através do qual não só se constrói o pensamento, mas se constroem as pessoas e novas relações; no campo da gnoseologia (formação do pensamento), constrói-se o conhecimento a partir da análise, da reflexão e da comunicação coletivas, pois é pelo esforço conjunto que chegamos mais perto do real, mediante o diálogo e até o conflito, numa constante relação entre prática e teoria, ou seja, “práxis”. A experiência que temos tido é que, através da leitura popular e comunitária da Bíblia, se constrói a Igreja como comunidade viva e aberta à “política do Reino”. Tudo isto tem sua raiz no processo que se manifestou no Concílio e tomou corpo na Constituição sobre a Divina Revelação.
Não devemos, porém, esquecer que, ao falar de prosseguir no diálogo, não se trata de privilegiar, como primeiro passo, o diálogo doutrinal. É claro que esse será sempre importantíssimo. Temos de começar, porém, por investir primeiramente em novas relações entre nós, entre pessoas e pessoas, comunidades e comunidades e instituições. Dessas relações primárias, imediatas, poderão ir brotando ações conjuntas mediante as quais vamo-nos reencontrando como um só corpo em Cristo a serviço de nosso povo, como se tem dado no CEBI, no CESEEP, na CESE, na Diaconia, no Forum Ecumênico Brasil, na Rede Ecumênica de Juventude etc., o chamado “ecumenismo popular”. Finalmente, por entre relações de amor,expressas e desenvolvidas em ações de serviço, certamente, iremos sentindo necessidade de cada vez mais orar em conjunto e iremos inventando a maneira adequada de discutir, então já com humor fraterno, nossos assuntos doutrinais, de tal forma que, mesmo onde nos achemosdiferentes, já não nos sintamos mais divididos(as).
7. Conclusão
Para terminar, gostaria de acrescentar o seguinte. Em minha própria experiência, a intimidade com a Bíblia tem sido fonte de libertação pessoal e de chamado e estímulo ao engajamento social e político. Isto me demonstra que Ecumenismo, com base numa leitura renovada da Bíblia, além de sua dimensão puramente eclesial, é processo político de primeira ordem. Nossas divisões enfraquecem o povo, pois quebram laços fundamentais entre as pessoas, as famílias, as comunidades e as nações, laços pelos quais as consciências se atam ou se desatam. E hoje temos de pensá-lo nas dimensões da “oikouméne”, ou seja, todo o mundo habitado, “casa” onde todas as pessoas têm direito a “permanecer”. O fenômeno muçulmano e a atração que exerce o Budismo no Ocidente são indicadores eloquentes, e o Papa João Paulo II deu sinal claro disso ao reunir-se para orar pela paz com lideranças de tão diversas religiões mundiais. Manter-nos divididos(as) é interesse precípuo dos poderosos representantes do sistema de opressão. Imaginemos toda a Igreja cristã unida a serviço da libertação de nosso povo! Deflagraríamos movimento irresistível. E o reencontro com a Bíblia é fundamental para o povo cristão quando abre os olhos para a sociedade, a história o confirma. Hoje, quando a Igreja cristã toma a forma de um movimento imensamente amplo e plural, espalhado pelo mundo e quase incontrolável, temos de repensar as formas concretas de manifestar o conceito de comunhão, cujo princípio e modelo é a Santíssima Trindade, formas menos rígidas e diversificadas do ponto de vista institucional. Nesse contexto, Igrejas históricas como as nossas são chamadas com urgência a voltar à Bíblia. Sabemos bem que já não é suficiente confiar na tradição religiosa, filho(a) de cristão(ã) não será necessariamente cristão(ã). Doutro lado, não parece ser nosso caminho tentar prender o povo mediante exploração de fortes emoções ou de mecanismos de manipulação psíquica, aproveitando-nos da fragilidade, das frustrações e dos sentimento de orfandade, sobretudo tendo em conta a gravidade e a extensão planetária da crise cultural e espiritual de hoje. Só nos resta um caminho: fortalecer o sentimento depertença comunitária, pelo aprofundamento espiritual, o qual tem na Bíblia sua fonte privilegiada e a força de formar sentimentos e pensamentos profundos, o que o Apóstolo São Paulo chamava de “a mente de Cristo”. E esta é tarefa comum e inadiável para toda a Igreja cristã frente ao mundo que retorna à idolatria e, com “cruentos sacrifícios”, se prostra em adoração a falsos deuses que só exigem sujeição. É tão grande o desafio que nossas divisões se tornam menores e até ridículas, quando o que se nos pede é, diante do mundo, testemunhar em bloco o Nome de Cristo e Sua proposta de redenção (cf. Rm 8). Fiquemos com a palavra do patriarca Helder Camara, quando em entrevista a queima-roupa, durante o Concílio Vaticano II, falava mais ou menos assim: “No dia em que nossas Igrejas resolverem assumir realmente as preocupações de Deus, que são as questões da vida de Seu povo, então teremos vergonha de nossas divisões, pois nos parecerão cousa tão pequenina”. Afinal, nosso povo nos pede, antes de tudo que o ajudemos com “soluções de fé”, não com simples “confissões de fé”. Com frequência, crenças e doutrinas nos dividem, enquanto os desafios da vida têm tudo para nos unir em nome de Deus.
Aqui, quem sabe, para concluir, podem caber duas observações. A primeira é que a unidade não é um valor em si mesmo, nem pode ser construída a qualquer preço. Jesus já o diz expressamente quando se apresenta como quem traz a crise e a divisão até dentro da própria casa. A unidade, como expressão da comunhão, deve ter como critério de discernimento os valores centrais do Reino de Deus: dignidade, solidariedade, justiça, liberdade, igualdade, cuidado com a criação, defesa da vida, paz, tendo como eixo a pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, e a preservação de Sua obra que é o mundo. A outra observação é a de voltar a refletir sobre a antiga distinção: “esse” (ser), “bene esse” (ser bem) e “plene esse”(ser plenamente) da Igreja. “Esse” corresponde aos elementos essenciais que constituem a comunidade cristã: o anúncio da Boa Nova (“kérygma” e martyría) com base nas Escrituras (testemunho apostólico); a vida comunitária como comunhão em amor (koinonía), no serviço e na partilha fraterna; a mystagogía que se manifesta na liturgia como meio de introduzir as pessoas no mistério de Cristo; o aprofundamento da Palavra (didaskalía); o ministério (diakonía) de Cristo, estruturado de acordo com os dons (carismas) para a vida do mundo (cf. 1Cor 12-14), ou seja, o ministério de todo o povo da Igreja que é sacerdotal, e não apenas do clero (cf. 1Pd 2, 4-10). Na Comunhão Anglicana, chegou-se há anos, ao consenso em torno dos “mínima” exigidos para a plena comunhão eclesial, o chamado “Quadrilátero de Chicago-Lambeth”: reconhecer as Escrituras como norma última da fé; os credos, apostólico e niceno, como legítima e suficiente síntese da fé cristã; os sacramentos do Batismo e da Eucaristia, como sacramentos da iniciação cristã, respeitando-se a pluralidade quanto a outros ritos, com fundamento na “sacramentalidade” da Igreja; o episcopado histórico a ser compreendido e interpretado como “ministério da supervisão”, o que não exclui que se possa dialogar sobre variadas formas de “episcopé”, pois deve ser tido por essencial o “ofício”, não necessariamente a forma histórica que tomou na tradição desde o século II. De qualquer forma, o episcopado, surgido muito cedo entre o final da era apostólica e o século II (cf. escritos de Santo Inácio de Antioquia) se tem mostrado elemento importantíssimo em função do “bene esse” da Igreja. Finalmente, para o “plene esse” da catolicidade a unidade ecumênica vem em primeiro plano, não como uniformidade de modelos, mas como unidade na diversidade, “diversidade reconciliada”, segundo a maneira de falar do Conselho Mundial de Igrejas. Que Deus, pelo Espírito Santo, nos guie com a lucidez divina e nos fortaleça com a coragem apaixonada de Seu amor!
NOTA BIBLIOGRÁFICA: Sobretudo para a reconstituição do processo de elaboração da Constituição Dei Verbum, ajudaram-me duas importantes obras:
ALONSO-SHÖKEL, Luís, Concílio Vaticano II – Comentarios a la Constitución Dei Verbum sobre la Divina Revelación, Madrid, BAC, 1969, 797 pg. ;
BURIGANA, Ricardo. La Bibbia nel Concilio – la redazione della Costituzione “Dei Verbum” del Vaticano II, Bologna, 1998, Il Mulino, 514 pg.
Obs: Imagem enviada pelo autor.
Bispo Emérito da Diocese Anglicana do Recife
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil – IEAB
Imagem enviada pelo autor.